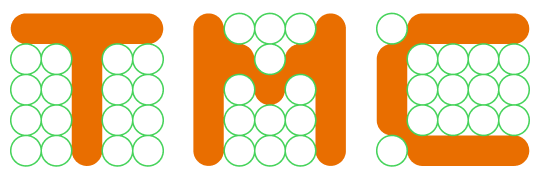Volto meu olhar para os casos recentes que ganham repercussão depois que a BBC admite ter feito uma edição em um discurso antigo do Trump, o que faz parecer que ele incentiva a invasão do Capitólio. Surge também a história da narrativa atribuída ao filho de um integrante do Hamas sobre Gaza. Ambos aparecem no editorial do Estado de São Paulo desta semana, que chama atenção para problemas que atravessam a prática jornalística.
Eu noto que, por trás desses episódios, há um ponto que conheço bem: muitos profissionais do pensamento público — e eu me incluo na responsabilidade — carregam vieses ideológicos marcados, principalmente à esquerda. Esse movimento começa muitas vezes na universidade, onde existe uma tendência forte de formação de cabeças dentro de um mesmo eixo. Quando isso chega às redações, abre espaço para que aqueles que atacam a imprensa digam que ela não merece confiança. Quando um governo critica a imprensa, ele não causa grande dano. Mas quando a imprensa não faz autocrítica, aí sim ela prejudica a si mesma.
Eu observo também o crescimento da imprensa em vários formatos, que acompanha a lógica das redes digitais. Os algoritmos mostram que, quando alguém radicaliza para um lado, ganha curtidas, engajamento e viraliza. Se radicaliza para o outro, acontece o mesmo. Essa lógica econômica estimula quem escolhe lado e penaliza o jornalismo que tenta manter a prática profissional: ouvir versões, apresentar fatos, analisar casos sem compromisso prévio com um grupo. Se um ministro ou um presidente faz algo que merece elogio, eu elogio. Se faz algo que merece crítica, eu critico. É assim que deve ser.
Diante disso, eu vejo dois pontos fundamentais para enfrentar a situação. Primeiro, a imprensa profissional precisa se afastar tanto do viés à esquerda quanto do viés à direita. Hoje, existem veículos completamente alinhados a um lado, e o público já sabe exatamente o que vai encontrar ali. O mesmo vale para o outro extremo. Professores, editores e profissionais precisam parar de formar cabeças direcionadas e retomar o compromisso de não ter lado. A função da imprensa não é pregar; é tentar compreender a realidade.
O segundo ponto envolve a relação do público com os algoritmos. Eu insisto que buscar informações em fontes profissionais continua sendo melhor, desde que essas fontes evitem demonstrar viés. Nas redes, o usuário fica preso ao que agrada, e isso cria um ambiente em que a pessoa só escuta o que já pensa. A filosofia discute isso desde o século XVII: a dificuldade de pensar contra aquilo que nos agrada. Essa dificuldade atravessa todo o debate atual.
Eu também vejo que falta disposição das pessoas para se questionar, aceitar frustração e entrar em contato com ideias diferentes. No jornalismo, isso exige lembrar a ordem certa dos valores: minha função é trazer a notícia. Eu tenho minhas crenças sobre o que está certo ou errado, mas elas vêm depois da informação. Se me perguntam diretamente o que penso, eu falo. Mas minha opinião não pode vir antes do fato.
O editorial do Estadão faz uma crítica dura, e acho importante prestar atenção ao alerta. O risco é grande quando todo mundo em volta dentro de uma redação pensa igual. A pessoa relaxa, e sem perceber começa a torcer por um lado. A imprensa não pode torcer por nenhum lado. Os filósofos do século XVII diziam que precisamos resistir aos “ídolos”, as ideias que nos agradam. Esse conselho continua atual.
O cuidado com o viés é constante. A crítica é necessária, inclusive a autocrítica.